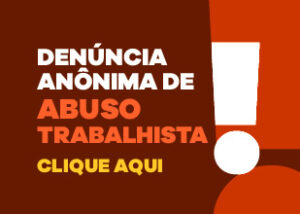Ninguém precisa dizer que Kazuo Watanabe é sócio de um dos maiores escritórios de advocacia do país e foi magistrado durante décadas. A marca dele no Direito brasileiro é tão indelével quanto comemorada: na falta de uma, o jurista foi responsável pela elaboração de ao menos cinco marcos legais.
Aos 83 anos, ele pode escrever no currículo ter escrito a Lei da Ação Civil Pública, a Lei dos Juizados Especiais e Pequenas Causas, parte substanciosa do Código de Defesa do Consumidor e a Resolução 125, do Conselho Nacional de Justiça, que trata da mediação e conciliação judicial. Fora a minirreforma no Código de Processo Civil durante os anos 1990. Não é exagero dizer que Watanabe promoveu pequenas revoluções jurídicas no Brasil.
Desde 1984, ele luta pela ampliação do acesso à justiça, “com J minúsculo, para não parecer que é só acesso ao Judiciário”. Este ano, vem recebendo homenagens por isso. A mais recente, o livro Acesso à Ordem Jurídica Justa (conceito atualizado de acesso à justiça), Processos Coletivos e Outros Estudos. É uma reunião de estudos de diplomas normativos de quem “há mais de 50 anos luta para que a justiça fale mais alto que a lei apenas”, diz Humberto Theodoro Jr na apresentação da obra.
Em entrevista exclusiva à ConJur, ele rememora seus principais feitos, mas não deixa de apontar novos caminhos. Lamenta, por exemplo, o veto da ex-presidente Dilma Rousseff à possibilidade de o juiz transformar demandas individuais em coletivas. Para ele, essa seria a melhor solução para a “judicialização excessiva” que o país vive, mas foi abandonada em nome de uma “visão liberal-individualista” de que só processos individuais podem representar direitos individuais.
Kazuo Watanabe recebeu a ConJur dias depois de uma homenagem que recebeu na sua Faculdade de Direito da USP.
Leia a entrevista:
ConJur — O que o senhor considera “acesso à ordem jurídica justa”?
Kazuo Watanabe — Quando falo nisso, trato da atualização do conceito de acesso à justiça. Escrevo justiça com J minúsculo para não significar somente acesso ao Poder Judiciário. Os cidadãos têm direito de ser ouvidos e atendidos, não somente em situação de controvérsias, mas em problemas jurídicos que impeçam o pleno exercício da cidadania, como nas dificuldades para a obtenção de seus documentos ou de seus familiares ou os relativos a seus bens. Instituições como o PoupaTempo e as câmaras de mediação, desde que bem organizados e com funcionamento correto, asseguram o acesso à justiça aos cidadãos nessa concepção mais ampla.
ConJur — De que lei o senhor mais se orgulha de ter ajudado a criar?
Kazuo Watanabe — Inicialmente, a Lei do Juizado Especial de Pequenas Causas (7.244/84) e a Lei da Ação Civil Pública (7.347/85). Essas duas foram importantes porque o sistema processual brasileiro vigente à época era o Código de Processo Civil de 1973, que adotou uma visão mais liberal-individualista.
ConJur — Como surgiu a ideia para a Lei dos Juizados?
Kazuo Watanabe — Diagnosticamos que estava havendo uma litigiosidade contida, porque as partes não sabiam a quem ou como recorrer. Notamos que o CPC até poderia funcionar para pessoas que tivessem posse e condições, mas não funcionava para pessoas humildes. Foi formulada uma proposta que facilitasse o acesso à justiça por parte de uma camada mais humilde. Fui indicado pela Associação Paulista de Magistrados, juntamente com o professor Cândido Rangel Dinamarco, para participar da comissão elaboradora do anteprojeto de lei. Essa lei significou o primeiro rompimento do modelo liberal-individualista que estava no CPC, em que predominava a autonomia individual. Essa lei foi um sucesso, tanto que a Constituição de 1988 a consagrou definitivamente.
ConJur — E a Lei da Ação Civil Pública?
Kazuo Watanabe — Havia de se pensar também no acesso coletivo. Então se tentou pensar numa ação coletiva, que não tínhamos. Tínhamos ação popular, mas só para fins específicos, mas não para a tutela de interesses em geral. Elaborado o primeiro anteprojeto de ação coletiva do Brasil, ele foi discutido com a comunidade jurídica de todo o país e, após receber várias contribuições, em especial do Ministério Público, se converteu na Lei 7.347/85. Essa lei permitiu outro tipo de acesso.
ConJur — O que mudou com essas leis?
Kazuo Watanabe — A Lei das Pequenas Causas facilitou o acesso à justiça pelo cidadão comum, em especial os mais humildes. A Lei da Ação Civil Pública passou a permitir o acesso à justiça por parte de interesses metaindividuais. A partir da década de 1980, passamos por uma grande transformação, diria até revolucionária, em tema de acesso à justiça, facilitando o acesso para o cidadão mais humilde e para os interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Essas duas leis mudaram o paradigma do nosso sistema processual.
ConJur — Depois da Constituição de 1988, veio o Código de Defesa do Consumidor.
Kazuo Watanabe — O CDC passou a vigorar em março de 1991. Foi uma lei extremamente importante para mudar todo o sistema de proteção das relações de consumo, dando proteção mais adequada aos consumidores hipossuficientes, e sem prejudicar o dinamismo do setor produtivo. A responsabilização ficou mais rigorosa. Nessa lei, a professora Ada Pelegrini e eu participamos principalmente da formulação da parte processual. O código é multidisciplinar.
ConJur — O senhor também foi importante na minirreforma do CPC nos anos 1990.
Kazuo Watanabe — De 1992 a 1995 foram concebidos cerca de dez projetos de alteração CPC. Dois projetos foram de suma importância na mudança de paradigma do nosso direito processual: a antecipação de tutela e a tutela específica da obrigação de fazer ou não fazer.
A tutela antecipada possibilitou ao juiz, logo no início da ação, conceder uma medida liminar de natureza satisfativa. Até então cabia ao legislador determinar as hipóteses de concessão de liminar. Alguns interesses que contassem com a força de lobby para aprovar leis nesse sentido contavam com esse privilégio. Como não havia a possibilidade de obter liminar nas ações em geral, os advogados passaram a utilizar da chamada ação cautelar inominada para obter a liminar, que equivalia à antecipação de tutela.
A práxis forense indicava a desatualização do sistema processual vigente, que não atendia mais à dinâmica dos novos tempos, que exigia soluções mais céleres. A tutela antecipada nasceu disso. A comissão acolheu a proposta do professor Ovídio Batista da Silva de permitir a antecipação de tutela em todos os casos, desde que houvesse verossimilhança na alegação do autor fundada em prova bastante consistente e houvesse o perigo de dano. Isso mudou profundamente o paradigma do sistema processual nosso.
ConJur — Qual era o paradigma anterior?
Kazuo Watanabe — Primeiro conhecer e decidir quem tem razão, só depois executar. Privilegiava muito o réu. O autor dificilmente conseguia obter a tutela antecipada. A gente sabia, estatisticamente, que o autor tinha razão num grande percentual dos casos. No entanto, era ele quem devia suportar os danos da morosidade judicial. A antecipação de tutela inverteu as coisas.
ConJur — E a obrigação de fazer?
Kazuo Watanabe — Quando se tem uma obrigação de fazer, obrigação de não poluir, de pintar, de concluir um contrato, enfim, obrigação de praticar ou não um ato, a nossa doutrina sustentava que a liberdade das pessoas é intangível e por isso o Judiciário não podia compelir alguém a executar um ato. A única solução possível seria converter a obrigação em perdas e danos. A doutrina já vinha percebendo que essa solução não era adequada, principalmente em relação a certos direitos e deveres fundamentais. Por exemplo, em relação ao meio ambiente, o dever de não poluir.
ConJur — O senhor também foi o pai da Resolução 125 do CNJ, sobre mediação e conciliação.
Kazuo Watanabe — Ela revolucionou o conceito de acesso à justiça, atualizando-o como acesso à ordem jurídica justa. Isto está expressamente afirmado na exposição de motivos e está fazendo com que o Judiciário não se limite só a julgar casos, mas oferecendo outros serviços, como mediação, conciliação, opinião neutra e outros mecanismos de resolução consensual. A Resolução diz expressamente que todos esses mecanismos devem ser oferecidos. O Judiciário tem que assumir papel mais ativo. A concepção que sempre existiu é a de que o Judiciário é neutro, um poder passivo. É claro que não pode julgar uma ação sem que alguém tome a iniciativa, mas organizar serviços para adequar melhor sua atuação em benefício da sociedade, adotando todos os mecanismos adequados de solução dos conflitos, reduzindo a quantidade de processos judiciais, é a exigência dessa concepção atualizada de acesso à ordem jurídica justa.
ConJur — Como era antes da resolução?
Kazuo Watanabe — O juiz organizava em sua comarca o setor de conciliação e mediação, o tribunal, um setor de conciliação e, na capital, também um setor de conciliação em primeiro grau. Essas iniciativas alcançavam excelentes resultados, mas não havia uniformidade em suas práticas e isso enfraquecia essas atividades experimentais. O juiz que era vocacionado e gostava da mediação e da conciliação, organizava bem o serviço. Mas quando ele era promovido e vinha outro juiz que não era muito vocacionado, esse serviço passava a produzir menos, chegando até mesmo a desaparecer. São Paulo já tem instalados cerca 231 Cejuscs, 11 na Capital e 220 no interior.
ConJur — A Lei de Ação Civil Pública tem sido bem utilizada?
Kazuo Watanabe — Temos três tipos de ações coletivas: para tutela de interesses difusos (interesses de toda a coletividade), para interesses coletivos stricto sensu (interesses de grupo, categoria ou classe de pessoas) e para interesses individuais homogêneos (os decorrentes de origem comum). As duas primeiras estão funcionando razoavelmente. Só que, ao longo desses mais de 30 anos houve tentativas bem-sucedidas de redução do campo de aplicação da ação coletiva e da amplitude da sentença nela proferida. Alterações promovidas no interesse, principalmente, do poder público.
ConJur — Que alterações?
Kazuo Watanabe — Por exemplo, não se pode utilizar a ação coletiva para “veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados”. Essa limitação foi determinada por meio de medida provisória, que posteriormente se converteu em lei. A ideia que está à base dessa limitação é a da fragmentação dos conflitos de interesses, que é a solução de cunho liberal-individualista adotada pelo nosso sistema processual. Essa estratégia da fragmentação dos conflitos é uma das causas da judicialização excessiva que está congestionando os órgãos judiciários do país.
ConJur — Demandas individuais deveriam poder ser convertidas e coletivas?
Kazuo Watanabe — A pessoa física, desde que seja também vítima de um evento danoso, tem legitimação para defender em juízo o seu próprio direito. A defesa do interesse coletivo, na eventualidade de acolhimento da demanda, é consequência da tutela do direito do autor da ação, que é parte do interesse coletivo de natureza indivisível. Isso sempre foi admitido, denominamos esse tipo de ação de “ação individual de alcance coletivo”. Apresentamos a proposta ao projeto de reforma do CPC e ela foi aprovada pelo Congresso, mas vetada pela presidente Dilma.
ConJur — Por quê?
Kazuo Watanabe — A presidente justificou o veto informando que estava a atender ao pedido do setor produtivo, que são as indústrias, e ao da OAB, por incrível que pareça. Segundo me pareceu, quanto mais conflitos individuais existirem melhor será para o mercado de trabalho do advogado.
ConJur — O que faz pouco sentido.
Kazuo Watanabe — Dizem que existem mais de 1,2 mil faculdades de Direito no Brasil, o que seria mais que todas as faculdades de Direito existentes no Ocidente. São poucos os bacharéis que passam no Exame de Ordem, mas mesmo assim entram, a cada ano, muitos novos advogados no mercado de trabalho. O problema da judicialização excessiva decorre, de alguma forma, da quantidade excessiva de advogados que temos e pela necessidade de manutenção da lógica da fragmentação dos conflitos que poderiam ser solucionados por meio de ações coletivas.
ConJur — O Brasil tem conflitos para tantos advogados?
Kazuo Watanabe — Pois é. Como é que muitos advogados estão obtendo renda? Há algum tempo, a informação que tive é de que, em São Paulo, perto de 50 mil advogados dependiam da remuneração dos serviços prestados como dativos, pois não teriam clientela própria. Temos que pensar, seriamente, em alguma coisa para melhorar esse estado de coisas.
ConJur — O modelo atual do Brasil, com o novo CPC, está mais próximo do Common Law do que o Civil Law, como dizem alguns analistas?
Kazuo Watanabe — Essa aproximação de sistemas jurídicos já vem ocorrendo há algum tempo. Da mesma forma que o sistema da Civil Law, que é o nosso, sofre as influências da Common Law, há também alguma influência da Civil Law na Common Law. A Lei das Pequenas Causas é um exemplo. Para sua concepção, foi tomado por modelo o small claims court de Nova York. Porém, no sistema da conciliação, com conciliador recrutado na sociedade, pegamos o modelo japonês. A ideia básica das pequenas causas é basicamente a mesma do modelo norte-americano, que é a de facilitar o acesso ao cidadão comum e de resolver rapidamente as controvérsias. Essa influência de outros modelos jurídicos já estamos tendo há algum tempo.
ConJur — Em pesquisa recente, mais da metade dos juízes responderam que o sistema de precedentes prejudica sua independência. Como vê isso?
Kazuo Watanabe — A pesquisa revela que os juízes não seriam a favor de seguir precedentes. Mas, na prática, os magistrados respeitarão os precedentes estabelecidos pelas cortes superiores. Agora, com o precedente estabelecido após o incidente de uniformização e com a lei determinando expressamente a obrigatoriedade de sua observação por todos os juízes, muito dificilmente haverá desrespeito aos precedentes. A insatisfação dos juízes está mais no sistema adotado para a resolução de demandas repetitivas, que possibilitou o estabelecimento de precedente obrigatório sem que tivesse havido previamente uma ampla discussão nas instâncias inferiores.
ConJur — O que acha desse sistema de precedentes do CPC?
Kazuo Watanabe — O precedente é útil, sim, principalmente para demandas repetitivas. Mas o incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) não resolve o problema da judicialização excessiva. Ele funciona depois que já há diversas ações baseadas na mesma tese e há divergência de entendimentos. Portanto, será difícil os tribunais locais instaurarem IRDR em matéria de lei federal. As grandes discussões vão acabar no STJ, mas quando ele resolve instaurar o incidente já foi ajuizada uma quantidade enorme de demandas individuais em todo o país.
ConJur — Qual a solução?
Kazuo Watanabe — Ao lado do incidente de resolução de demandas repetitivas, a solução que se impunha era possibilitar a conversão das demandas repetitivas em ação coletiva, que teria um só julgamento, evitando assim a possibilidade de contradição de julgados sobre uma mesma tese jurídica. Mas a solução não foi aceita e o novo CPC evitou tratar da ação coletiva, que em muitos pontos está necessitando de aperfeiçoamentos.
ConJur — Esse tipo de questão não costuma ser resolvida com o tempo?
Kazuo Watanabe — Certamente há necessidade de um tempo para amadurecimento do debate. Mas durante esse tempo são ajuizadas demandas individuais aos milhares, congestionando o nosso Judiciário. E vão ocorrendo as divergências de jurisprudência. A solução adequada seria combinar as duas coisas: o incidente da resolução de demandas repetitivas e a possibilidade de ação coletiva. Mas há apenas, no artigo 139, inciso X, o dispositivo que impõe ao juiz, em casos de repetição de demandas individuais repetitivas, o dever de comunicar o fato ao Ministério Público e à Defensoria Pública, e se possível também aos outros legitimados para, se for o caso, promover a propositura da ação coletiva. Mas a proposta de conversão da demanda individual em coletiva não atrapalharia o IRDR, mas se somava a ela para criar um sistema mais completo de enfrentamento do problema de demandas repetitivas.
O incidente de resolução das demandas repetitivas foi a menina dos olhos da comissão elaboradora do anteprojeto de reforma do CPC e tudo o que pudesse de alguma forma prejudicar a proposta foi recusado. Mas a proposta de conversão das ações individuais em ação coletiva não prejudicaria a proposta do incidente mencionado. Era hora de aprimorarmos o sistema das ações coletivas.
ConJur — Com uma lei própria?
Kazuo Watanabe — Sim. Só que acontece atualmente um problema político muito sério: hoje não passa no Congresso nenhum projeto que diga a respeito à ação coletiva.
ConJur — Por quê?
Kazuo Watanabe — Muitos deputados e senadores que exerceram algum cargo no Executivo estão sendo acionados pelo Ministério Público por improbidade administrativa. Não é ação coletiva, mas na visão desses políticos é considerada como tal. Eles dizem que não querem dar mais poder ao MP e ao juiz. Então qualquer tentativa de aperfeiçoamento da ação coletiva é arquivada sumariamente no Congresso, como ocorreu com o projeto de atualização da Lei da Ação Civil Pública, no Senado, ou no projeto de atualização da parte processual do Código de Defesa do Consumidor.
Como evidência gritante dessa necessidade, cito o caso da ação coletiva contra os bancos para a reclamação das diferenças de rendimento das cadernetas de poupança, que está terminando somente agora, depois de 30 anos de tramitação! Tem sentido uma ação coletiva demorar tanto tempo?!…